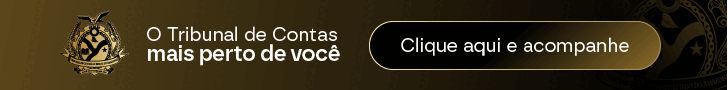Fui ao casamento de minha prima. Música ao vivo, flor no cabelo das madrinhas, os noivos com sorrisos que mal cabiam no rosto. Tios abraçando primos, taças tilintando, decoração de revista. Tudo no lugar certo, como manda o figurino das festas que querem ser inesquecíveis. Mas o que realmente me paralisou — feito criança colada na vitrine de uma confeitaria — foi ela: a mesa de doces. Um altar dourado, rendado de açúcar e promessas antigas.
Doces muitos. Doces lindos. Tão bem arrumados que quase pareciam intocáveis. Mas ali estavam, me chamando em silêncio — ou talvez gritando em outra frequência. Camadas de chocolate, damasco com nozes, brigadeiros em fila, cada um em sua pequena moldura dourada, como se fossem joias. E, de certa forma, eram.
A bariátrica
O problema é que eu sou bariátrica. Meu corpo já não responde com tanta leveza ao desejo. Ele cobra caro pelas escapadas. Ele avisa. Ele limita. Mas, naquela hora, entre um brinde e outro, entre o afeto servido em pratos de porcelana, eu cedi. Três. Talvez quatro doces. Não tenho certeza. Porque não foi racional. Foi afetivo. Quase místico.
Comi como quem tenta acessar uma lembrança. Como quem quer reviver uma infância que talvez nunca tenha sido exatamente assim, mas que a memória insiste em pintar com tons de caramelo. O doce, ali, era muito mais que açúcar. Era refúgio, era carinho, era colo. Era uma forma de tentar voltar — mesmo que por alguns segundos — pra um lugar onde as dores ainda não tinham nome e os corpos ainda não tinham culpa.
Mas a gula da alma não cabe no estômago operado.
*E aí veio ele, implacável: o dumping*
Uma sensação horrível, de quase morte. Um mal-estar que começa no estômago e se espalha como veneno leve. O coração acelerado, o suor frio, a náusea que sobe e toma conta do corpo inteiro. Precisei sair. Me despedir da festa sem alarde. Caminhei — ou tropecei — até o chalé mais próximo, escondido entre oliveiras e lavandas, na beira de um campo dourado.
A fazenda parecia um pedaço da Toscana plantado no sul de Minas, aos pés da Serra da Mantiqueira. Montanhas ao longe, céu em aquarela, plantações jovens abraçando o horizonte. Um lugar para esquecer do tempo — e lembrar do que importa. Mas, naquele instante, tudo o que eu queria era uma cama.
Entrei no chalé como quem busca abrigo da própria escolha. Deitei. O corpo tentando expulsar o excesso. A alma quieta, esperando a tempestade passar. Era como se eu estivesse pagando um preço muito alto por uma promessa de felicidade que durou segundos.
Doce afeto
Fiquei ali, deitada, pensando que talvez eu não quisesse os doces. Talvez eu quisesse aquilo que eles representavam: o afeto espontâneo, a liberdade de não se conter, o abraço da mãe que já não está. O aconchego das amizades que vão se distanciando na maturidade.
Talvez, no fundo, eu só quisesse um tempo em que eu não precisasse me vigiar o tempo todo.
Hoje, escrevendo isso, me pergunto se a felicidade não mora justamente nesse esforço silencioso de escolher com consciência. Se não está no “não” dito com afeto por mim mesma. Se não está no ato revolucionário de comer um só brigadeiro — inteiro, lento, com olhos fechados — e deixá-lo durar o quanto for possível.
Como se fosse sagrado.
Porque é.